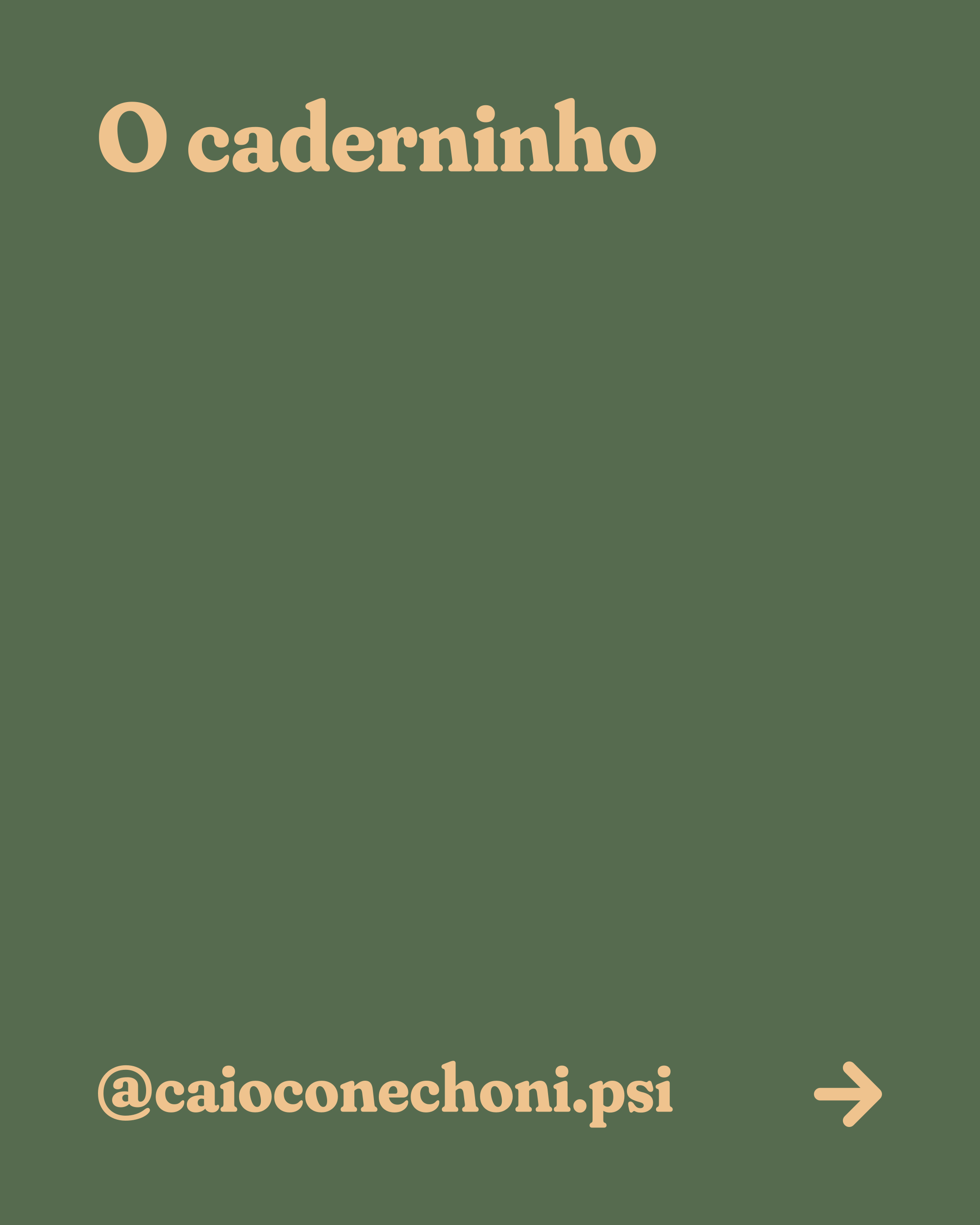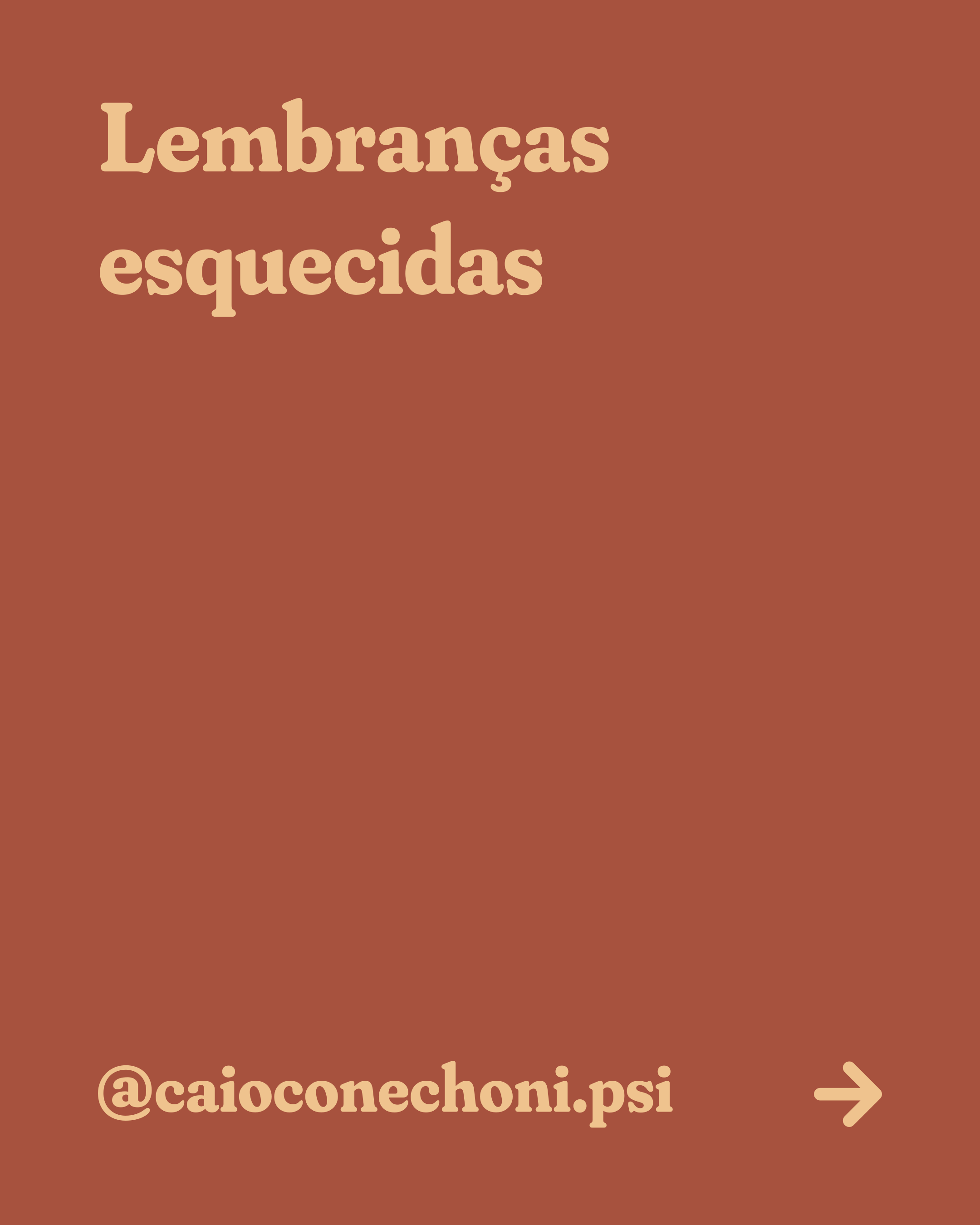Um apartamento de classe média baixa. A mulher se vira na cama, insone. Um alarme toca. Ela, aparentando ter entre 35 e 40 anos, levanta apressada. Vai à cozinha, prepara o café, esquenta umas torradas, tira a manteiga da geladeira. Prepara a mesa. Volta para o quarto e chama de maneira cuidadosa o homem que dorme profundamente. Ele, aparentando ter entre 40 e 45 anos, acorda com dificuldade, levanta sonolento, usa o banheiro e senta-se à mesa posta para tomar café. Ela senta-se junto com ele, e em silêncio, fazem o desjejum.
Quando terminam, ele levanta-se e faz menção de tirar alguma coisa da mesa. Ela o impede, sem muito esforço. Ele volta ao quarto para se vestir e sair para o trabalho. Ela sozinha troca a louça suja por outras limpas. O homem não encontra sua camisa até que a mulher vem e aponta para onde ela está. Depois, ela se dirige ao quarto da criança, pondo-se a chamá-la. Esta, aparentando algo em torno de 10 a 12 anos de idade, levanta da cama resmungando.
— Tira essa meia, se seu pai ver ele vai reclamar.
A criança obedece, e depois se arrasta até a mesa, o olhar vidrado no celular.
O homem volta à sala pronto para sair. Deseja bom dia para a criança e logo lhe diz:
— Seu cabelo tá muito comprido, menino, tá na hora de cortar.
A criança finge que não escuta, que não se importa, e segue engolindo um pedaço de pão sem vontade. A mulher deseja a ele bom trabalho, ambos se beijam mecanicamente, e ele sai apressado. Ela pede à criança que não se demore, ou ambos vão se atrasar para chegar à escola.
O mesmo apartamento, horas mais tarde. A TV está ligada, a mulher recolhe os pratos e panelas do almoço de cima da mesa. O homem está sentado no sofá, atenção dividida entre a TV e o celular. A criança está estirada de maneira preguiçosa sobre uma poltrona próxima ao homem, e dedica toda sua atenção ao seu celular.
Enquanto faz seu serviço doméstico, a mulher comenta em voz alta sobre um de seus alunos cujo pai foi preso por furto. O homem, sem desviar a atenção das telas, faz um comentário sobre como hoje ninguém quer trabalhar, e todos querem tudo do jeito fácil. A mulher ouve calada.
A TV exibe a notícia da prisão domiciliar de um ex-presidente. O homem logo diz:
— Finalmente! — e por um breve momento parece se alegrar.
A mulher, entre idas e vindas da cozinha para a sala, comenta:
— Graças a Deus a justiça está sendo feita — ao que ele ainda complementa — Agora as coisas vão melhorar.
Depois dessa breve interação, seguem cada um em sua mesma atividade, em silêncio.
Passados uns minutos, o homem levanta-se do sofá e diz à criança “vamos, moleque, vai se trocar que vou te deixar no futebol antes de ir pro trabalho”. A criança suspira, põe de lado o celular e vai para seu quarto.
O mesmo apartamento, à noite no mesmo dia. A TV da sala está ligada e está no ar o telejornal da noite. É exibida uma reportagem sobre migrações causadas pela crise climática, mas não há ninguém prestando atenção. A porta do quarto da criança está fechada, e ouve-se na sala o som de música alta abafada vinda de lá. O homem e a mulher estão sentados à mesa, há pratos e talheres sujos de uso, e eles conversam.
— Ele brigou no futebol hoje — diz ela, preocupada.
— Brigou por quê? — diz ele, em tom desinteressado.
— Um coleguinha chamou ele de “viado”. Ele revidou com um soco, e os dois começaram a se bater. O professor teve que intervir.
— Ele fez bem! — diz, sorrindo — Não pode levar desaforo pra casa!
A TV muda de reportagem, e agora fala sobre a imposição de tarifas comerciais abusivas por parte dos EUA sobre produtos brasileiros. A mulher lança um olhar de desaprovação para o homem, levanta-se em silêncio e começa a recolher os itens sujos da mesa. Ele diz a ela, enquanto tira o celular do bolso para verificá-lo
— Se você continuar tratando ele com essa moleza, ele vai virar “viado” mesmo. A gente já falou sobre isso.
Ela fica em silêncio e segue na arrumação. Ele levanta-se após uns instantes e some para seu quarto. Ela termina a arrumação, e vai atrás dele. A TV segue ligada, agora exibindo uma deputada travesti, negra, que discursa no parlamento:
— …mais uma situação de violência, mas não vão nos calar! Não vão nos invisibilizar! Não toleraremos esse tipo de afronta à nossa comunidade e estamos… — a mulher volta e desliga a televisão.
É hora de ir dormir.